A COR DA CONSCIÊNCIA: QUEM TEM MEDO DO 20 DE NOVEMBRO?
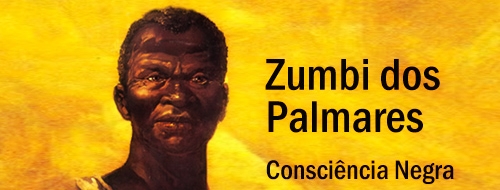
Em 20 de novembro de 1695, após anos de resistência contra as tentativas sucessivas de destruição do quilombo que então liderava, Zumbi foi capturado e assassinado. O governador da capitania de Pernambuco da época, Caetano de Melo e Castro, diante da morte do último líder do Quilombo dos Palmares (o maior dos muitos quilombos que se espalharam pelo Brasil desde o século XVI), escreveu a Pedro II, rei de Portugal: “Determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça, para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que supersticiosamente julgavam Zumbi um imortal, para que entendessem que esta empresa acabava de todo com os Palmares.”
O recado estava dado: com efeito, a cabeça de Zumbi foi exposta em praça pública no Pátio do Carmo, em Recife, para servir de lição e “atemorizar” os demais negros que ousassem se rebelar contra a escravidão e as condições desumanas a que estavam submetidos. O objetivo dessa brutalidade (decapitação seguida de exposição pública) era, como disse o próprio governador em sua missiva, “satisfazer” aqueles que, “justamente”, se queixavam e ofendiam com a ideia de negros e negras se unindo para enfrentar e reverter uma sociedade escravocrata e racista.
Hoje, 320 anos depois da morte física de Zumbi, negras e negros reunidos para questionar as persistências do racismo e as consequências inacabadas da escravidão ainda, surpreendentemente, “ofendem” muita gente. A calorosa recepção (no pior sentido do termo) que as mulheres negras receberam de manifestantes pró-impeachment ao chegarem, em marcha, no Congresso Nacional anteontem, com direito a tiros e gás de pimenta, deixa dolorosamente clara a durabilidade histórica do medo que negros e negras causam ao se aquilombarem, se organizarem, enfim, ao existirem sem baixar a cabeça.
A carta do governador, encharcada de violência e ódio, ainda que escrita em fins do século XVII, parece infelizmente ainda hoje ecoar nos corações e mentes de muita gente, reformulada numa linguagem menos crua, mais “moderna”. Refiro-me às propostas que volta e meia surgem, especialmente durante o mês de novembro, de criação de um dia da “consciência branca”. Essa ideia, por sua própria natureza absurda e cínica (por que raios pessoas que auferem privilégios – materiais e simbólicos – por serem brancas precisariam de um dia especialmente dedicado a discutir e enfrentar as discriminações (sic) que sofrem (sic)?), tem caído em desuso nos últimos anos, dando entretanto lugar a outra, ainda mais perniciosa, de defesa de um dia da “consciência humana”.
O argumento é relativamente simples: ora, se somos todos humanos, dizem, então não faz sentido falar em consciência negra, e sim numa consciência humana. Alguns vão além, numa postura (dita) liberal que mal disfarça o próprio racismo: para eles, insistir na ideia de consciência negra acabaria por reforçar (quando não “inventar”) o racismo. De um dia de reflexão e celebração, o 20 de novembro vai, assim, sendo paulatinamente despolitizado e esvaziado em nome de um humanismo vazio e falso.
Falso porque a perversidade dessa proposta reside precisamente no caráter supostamente humanista e igualitário que a formulação “consciência humana” diz abarcar. Como se o fato de sermos, efetivamente, todos humanos apagasse, num passe de mágica, as brutais desigualdades racializadas de condição de vida e de acesso à cidadania entre nós, tornando alguns “mais humanos” do que outros.
Não é de hoje, entretanto, que o questionamento e desconstrução de certos “humanismos”, fundados numa noção genérica e abstrata de “ser humano”, está em curso. Os processos de descolonização da África e da Ásia ao longo do século XX, assim como os movimentos de maio de 1968 e a emergência de coletivos de feministas negras já apontavam inequivocamente que, por trás do “ser humano” geral, das ideias de que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos” e de uma humanidade comumente partilhada, estava, em realidade, a humanidade particular do homem branco, heterossexual, cisgênero, de classes médias e altas, alçada então ao patamar de “universal”.
Essa operação que visa generalizar uma condição localizada (o que, em linguagem marxista, convencionou-se denominar “ideologia”), aliás, sequer é nova: desde a famosa frase do sofista Protágoras – “o homem é a medida de todas as coisas” –, cunhada no contexto da Grécia Antiga, numa sociedade que não considerava mulheres e escravizados como propriamente cidadãos, sabemos que não é exatamente qualquer ser humano que serve de régua para todas as coisas. Quando designamos pessoas que não são brancas como “pessoas de cor”, como se branco fosse uma cor neutra ou, melhor dizendo, uma não-cor, um parâmetro indefinido a partir do qual se pode definir todo o resto, não estamos exatamente colocando o branco como medida de todas as coisas, o branco, afinal, como medida do humano?
Mas voltemos ao 20 de novembro e à cor da consciência: não faz sentido falar em consciência branca porque, num país em que as relações sociais são regidas por uma lógica pigmentocrática, não foi nem é o branco quem teve e tem sua história apagada dos livros didáticos, quem teve e tem seus cabelos e outros traços fisionômicos ridicularizados. Tampouco faz sentido falar em consciência humana porque, num país em que poucos negros ocupam posições de poder, não obstante serem mais da metade da população, não é qualquer humano que é parado na rua para ser enquadrado por policiais, sem qualquer motivo aparente a não ser sua própria aparência; não é qualquer humano que é “confundida” como babá ao caminhar com seu próprio filho de tom de pele mais claro.
Enquanto os alvos preferenciais da violência policial, da intolerância religiosa e do acesso desigual a serviços públicos e privados tiverem cor, não faz sentido desqualificar o 20 de novembro em nome de uma consciência descolorida, pretensamente geral porque “branca” ou “humana” (os dois termos são, muitas das vezes, cinicamente intercambiáveis).
Não faz sentido porque, num país em que se diz, aos risos e sem cerimônias, que “branco correndo é atleta, negro correndo é ladrão”, que “uma reunião de brancos é negócio, uma reunião de negros é formação de quadrilha”, em que um líder negro resistindo e lutando contra a escravidão tem sua cabeça decepada para servir de contraexemplo a quem ouse tomá-lo como inspiração, a consciência tem que ter cor, sim.
E hoje, 20 anos depois da antológica primeira marcha comemorativa dos 300 anos da imortalidade de Zumbi, negras e negros vão às ruas para mostrar a cor de sua consciência. Para mostrar que, apesar de todo ‘não’, não nos atemorizamos. Para mostrar, enfim, ao governador da capitania de Pernambuco, séculos depois, que ele estava mesmo errado em sua carta dirigida ao rei, lá nos idos de 1695: que a resistência do povo negro, em prática mesmo antes de Zumbi, tampouco terminou com a sua morte.
*Hélio Menezes é formado em Relações Internacionais (IRI-USP) e Ciências Sociais (FFLCH-USP), mestrando em Antropologia Social (PPGAS-USP) e pesquisador do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença (NUMAS-USP) e do Etno-História (USP)
